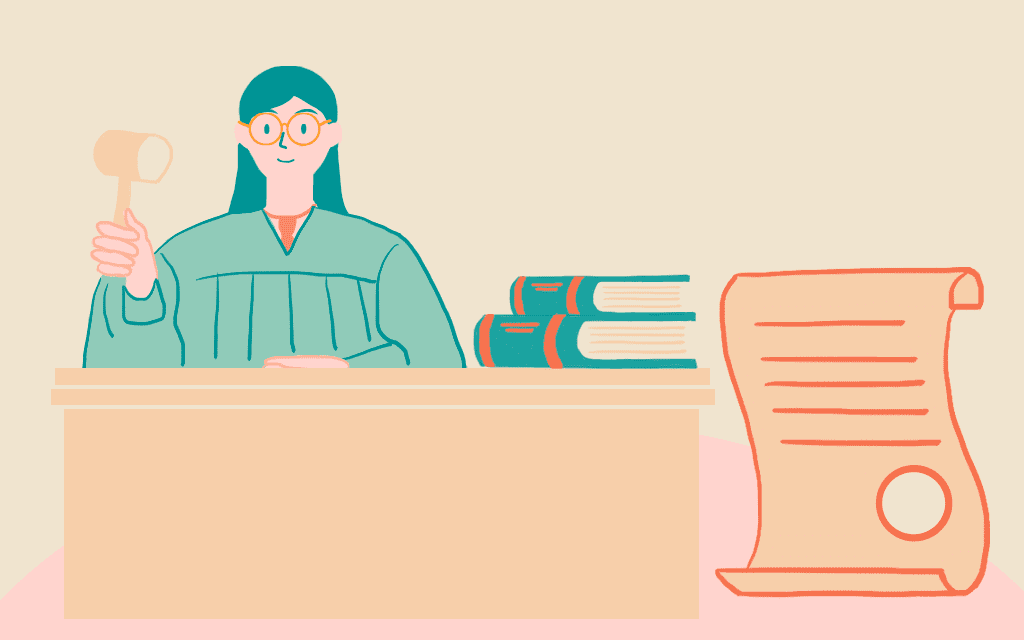O CGI.br lançou nesta quarta-feira, 17, o relatório Remuneração do Jornalismo pelas Plataformas Digitais. A autora do texto, Marisa von Bülow, fez um compilado dos projetos e das leis já regulamentadas ao redor do mundo e suas principais questões. Entre os pontos sensíveis está como será feita a remuneração – se por meio de um fundo ou negociações diretas entre plataformas e empresas de jornalismo ou uma mistura das duas opções. O documento foi elaborado a partir de dados encontrados até março deste ano e teve a coordenação editorial de Rafael Evangelista, coordenador da Câmara de Conteúdos e Bens Culturais do Comitê Gestor de Internet no Brasil.

Marisa von Bülow e Rafael Evangelista apresentam o relatório Remuneração do Jornalismo pelas Plataformas Digitais. Imagem: reprodução a partir de vídeo
Bülow identificou três propostas de remuneração nos projetos discutidos ou que já viraram regulamentação no mundo:
a) criação de um fundo público de apoio ao setor, que tenha governança participativa e que seja financiado pelas plataformas digitais;
b) barganha direta: a lei define a obrigatoriedade das plataformas entrarem em negociações com empresas de jornalismo. Esta sugestão fazia parte do PL 2630, mas hoje sua permanência no projeto de lei é incerta;
c) fundo público + barganha: para alguns atores a fusão das propostas é contraditória, mas para outros, é possível seria uma boa solução.
Além das propostas, houve também o mapeamento de controvérsias que, em sua visão, são “nós que precisariam ser desatados” para se chegar a um consenso de proposta para ser aprovada. São eles: quem se beneficiaria?; quem remunera?; remunera o quê?; com quais dados?; qual o papel do Estado?.
Quem se beneficia?
O código australiano, vigente há dois anos, fala de empresas registradas na autoridade australiana; cita critérios financeiros, de conteúdo, audiência e profissionalização para se chegar a uma lista de empresas que poderiam ser beneficiadas por acordos diretos com as plataformas. A ideia da “profissionalização” é beneficiar empresas com estrutura jornalística – como conselho editorial, regras, canais de reclamação e que se possa chegar a uma delimitação de atores –, de modo a limitar empresas e evitar beneficiar aquelas que produzem jornalismo de baixa qualidade, que esteja simplesmente reproduzindo conteúdo de terceiros ou que sejam canais de desinformação.
“Mas uma das principais críticas que se tem feito ao código australiano é que essas regras privilegiam atores tradicionais e aqueles mais poderosos, grandes conglomerados de notícias”, explicou a autora do relatório. “É difícil saber porque os acordos feitos entre plataformas e empresas são secretos e porque faz pouco tempo que a legislação está vigente, mas é uma preocupação em países em que outras propostas estão sendo apresentadas”.
A autora cita também o caso canadense, onde o projeto propõe uma abrangência maior sobre quem deve se beneficiar, como é o caso de empresas jornalísticas de povos indígenas ou que produzam informação para esta comunidade, demonstrando uma preocupação com a pluralidade.
Os apoiadores do fundo setorial, neste caso, defendem que esta forma de remuneração poderia apoiar iniciativas que beneficiam e estimulem iniciativas do processo de inovação tecnológica do setor como um todo.
Quem remunera?
Sobre quem deve remunerar a discussão é mais da nomenclatura. Na Austrália, seriam as “plataformas digitais”. A União Europeia chama de “prestadores de serviços de compartilhamento de conteúdos online”. E, no Canadá, dá-se o nome de “empresas intermediadoras de notícias digitais”.
“É importante a gente tentar padronizar de alguma maneira porque a gente sabe que é um conjunto heterogêneo de atores, com arquiteturas muito diferentes e que prestam serviços muito diferentes”. Para o relatório, é preciso pensar no ecossistema digital como um todo.
Bülow explica que os acordos acabam acontecendo entre as empresas de jornalismo com Google e Facebook, mas é importante que a legislação, em especial aquelas com barganha direta, definam as plataformas que seriam obrigadas a negociar com base em seus números de usuários no País. O desafio é pensar nas plataformas que existem hoje, mas deixar em aberto, na arena digital, para abarcar novas plataformas que venham a surgir.
Remunera o quê?
Neste caso, o relatório detecta dois extremos: ou definições muito rígidas – que podem deixar de fora empresas relevantes – ou muito amplas que podem incluir conteúdo pouco qualificado. “Que jornalismo a gente quer apoiar e por quê?”, questiona a autora. Não há consenso dessa definição e que tipo de jornalismo pode entrar.
Com quais dados?
Elaborar a legislação demanda obter dados auditáveis dessas plataformas, como números sobre publicidade, governança algorítmica – como é decidida a recomendação de conteúdos e é uma discussão direta sobre quem remunerar e como remunerar e com qual visibilidade o conteúdo jornalístico aparece – e critérios utilizados nos acordos já firmados (que são confidenciais).
“Tem uma verdadeira guerra de números”, diz Bülow. Como exemplo, a autora cita a porcentagem de Google e Facebook no mercado de publicidade global. “Há publicações que falam em 30% e outras que falam de 80% e qualquer número entre uma coisa e outra. Então, temos um problema”, resume.
Qual o papel do Estado?
Mesmo atores contrários à intervenção reconhecem que é preciso intervir para equilibrar a relação bastante assimétrica entre plataformas digitais que detêm muito poder e empresas jornalísticas que perdem cada vez mais poder.
Mas até que ponto o Estado deve intervir? Pode ser como um impulsionador – intervenção mínima, como a lei australiana demanda – ou o Estado formulador, mais presente nas propostas com fundo setorial de apoio ao jornalismo.
Algumas conclusões
A partir da análise de documentos e entrevistas realizadas, Bülow detecta alguns consensos. Porém, o documento não sugere uma solução para a questão brasileira. Entre os consensos estão: valorizar um jornalismo plural e confiável; e pensar a lei brasileira a partir de suas especificidades. Entre as especificidades, subentendem-se: a desigualdade no Brasil, a concentração de mídia no País e o deserto de notícias, ou seja, lugares onde não existem veículos locais de imprensa.